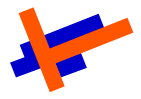recensão de Jesus Carrillo
Para alguém que interrogou a natureza das instituições artísticas em Espanha, a primeira coisa que chama a atenção no texto de Ana Bigotte Vieira é o ângulo e o quadro interpretativo a partir do qual se coloca semelhante questão em relação a Portugal.
Talvez devido à centralidade e ao peso do aparelho institucional da arte em Espanha, gerou-se um maelstrom discursivo que magnetiza toda a atenção, impedindo que se reflictam nele questões de amplitude e relevância que o estudo de Ana Bigotte desenrola sobre a cultura e a sociedade portuguesa. Esta é a maior virtude da autora: a de propor, a partir de análise detalhada de uma experiência institucional como foi o ACARTE no seu período inicial, entre 1984 e 1989, o significado das transformações sociais, culturais e políticas que se produziram em Portugal durante o último quartel do século XX e a sua transcendência para a compreensão do presente.
No caso espanhol, este tipo de estudos têm ocorrido sistematicamente a partir de uma história de arte que se interroga, com insistência narcisista, sobre o porquê da arte espanhola e das suas instituições não cumprirem as expectativas de qualidade e de relevância mundial que alguns almejavam ou a missão de defender a promessa de autonomia e de emancipação por outros reivindicada. As questões levantadas por Ana Bigotte, pelo contrário, não são formuladas no quadro disciplinar estrito da história da arte, mas sim a partir do enquadramento poroso e aberto da teoria e dos estudos culturais, tomando como referências fundamentais a obra de autores como Luís Trindade ou Boaventura de Sousa Santos, cujo objeto ultrapassa a esfera especifica do artístico para abordar a cultura como um processo social com múltiplas ramificações. Fá-lo seguindo o caminho aberto por André Lepecki, que formulou interessantes hipóteses sobre a construção do “corpo” social português desde o estudo da dança e da performance. Esta é outra especificidade diferencial do caso luso que contrasta com o do país vizinho: o enfoque sobre as artes do corpo e as assim chamadas “artes vivas”, como o teatro, a dança e a música. Em Espanha este espaço foi ocupado tradicionalmente pelas artes objetuais, a pintura e a escultura, sendo a exposição o dispositivo cultural por excelência, e o museu o seu quadro institucional. Este contraste implica uma ordenação e uma hierarquia diferentes, tanto dos agentes como dos valores em causa.
Lendo a narração de Ana Bigotte Vieira reconhecemos no manifesto redigido por Almada Negreiros e seus contemporâneos a propósito da visita dos Ballet Russos a Lisboa em 1917, um papel fundacional similar a que, ressalvando as distâncias, se concede a Picasso e ao Guernica na definição das relações entre vanguarda e horizonte de modernidade em Espanha. Não é por acaso, no entanto, que a referência a Almada Negreiros tenha sido explícita no arranque do ACARTE, o departamento fundado por Madalena Perdigão inserido na estrutura institucional da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1984.
O que Ana Bigotte aborda, no que foi a sua pesquisa de doutoramento não é, portanto, somente a narração da experiência institucional do ACARTE e a produção de um arquivo dos programas e atividades que acolheu e lançou durante os seus cinco primeiros anos de funcionamento (direção de Madalena Perdigão). A partir do ACARTE, Bigotte desenvolve um sofisticado exercício de interpretação das transformações sociais ocorridas em Portugal na década de 80, usando um não menos sofisticado aparelho critico que lhe permite abordar as temporalidades, espacialidades e as múltiplas corporalidades que se colocam em jogo num período de intensas transformações. ACARTE aparece como uma heterotopia e heterocronia. Aparece como um ALEPH no qual se suspendem as determinações de uma sociedade recém-saída do longo período da ditadura de Salazar, no qual se viram truncadas, espacial, temporal e corporalmente, as aspirações da modernidade proclamadas por Almada.
Isso não converte o ACARTE numa miragem ou numa mera bolha cultural. Ana Bigotte, pela mão de Trindade e Lepecki, percorre o desenvolvimento de um “povo pop”, com todas as suas contradições, resultado de uns “longos anos sessenta” a contrapelo das diretrizes ideológicas do regime. A autora conta como, à medida que a década de 80 avança, sob o signo do “cavaquismo” e em paralelo ao que se acontece com o seu vizinho peninsular, se produz uma desideologização generalizada da sociedade e uma reviravolta identitária impulsionada pelo imaginário europeísta após a entrada na União Europeia. Também nos dá conta da tradição de Educação pela Arte com que o ACARTE se relaciona diretamente através da figura de Madalena Perdigão, que abandonou a sua colaboração com o Ministério da Educação para regressar à Fundação Gulbenkian, no momento em que finalmente se inaugurava o Centro de Arte e fundava o ACARTE como parte integral do mesmo. Ao fazê-lo, a Fundação rompeu com o modelo hegemónico de museu de arte moderna consagrado no MoMa de Nova Iorque e apostava numa fórmula institucional relacional e processual que foi ganhando força no sistema internacional da arte nas décadas seguintes.
No entanto, o espaço cultural que ocupa o ACARTE não é um mero reflexo do seu contexto político e social. Aparece, antes, como um laboratório em que se experimentam, de forma aberta, as possibilidades e potencialidades de uma sociedade carente de coordenadas ou de uma corporeidade plausíveis. Isto permite-lhe abordar “os Anos 1980” não somente a partir da “a realidade” do que foram, como a partir dos desejos e as expectativas que se concebiam num âmbito excecional como ACARTE no qual se misturavam temporalidades passadas, presentes e futuras; um lugar que era simultaneamente muitos e ninguém específico; um “modo de ser” mais do que um lugar propriamente dito.
Ana Bigotte aproxima-se da atividade do ACARTE simultaneamente com extremo rigor analítico e com fascínio por um processo que, a partir da conjuntura histórica em que se dá, contém uma promessa de construção de comunidade e de transformação coletiva de uma grande potência. Neste sentido, Ana Bigotte adota a argumentação do pensador Roberto Esposito ao utilizar o conceito de “curadoria da falta”, ou carência, como chave para interpretar a lógica motriz do ACARTE e como ingrediente diferencial em que se funda a sua invocação de uma comunidade à sua volta. Face à auto-satisfação, a busca pelo sucesso ou pelo reconhecimento externo que muitas vezes reconhecemos nas políticas culturais, ACARTE projeta-se a partir da falta. No texto programático de Madalena Perdigão, “O que não vamos ser nem fazer”, afirma-se explicitamente a vontade de gerar comum a partir do que ainda não se sabe, do que deve ainda ser adquirido coletivamente a partir da experiência, dentro de uma ética que conecta com a prática pedagógica: “Vamos permitir que outros corram riscos e comeram erros”.
Para entender esse vínculo paradoxal entre a busca de um comum e uma instituição de origem privada, Ana Bigotte faz-nos recuar ao momento culminante do processo revolucionário em que se discutia o sentido do Portugal do futuro. Uma década antes da fundação do ACARTE, no mesmo ano em que Madalena Perdigão havia renunciado ao seu posto original na Fundação após ter sido acusada de elitismo e de imperialismo cultural, o suplemento do Expresso publica o dossiê: “Que Gulbenkian temos, que Gulbenkian queremos?” de que realça o uso enfático da primeira pessoa do plural: “temos, queremos”. Apesar da polémica e das acusações de conivência entre a direção da Fundação e o regime, esta era reconhecida como um irrenunciável “cenário de modernidade”. Dez anos mais tarde, a cena havia mudado notoriamente num Portugal que ingressava na União Europeia, mas persistia no desejo e no imaginário social essa identificação da Gulbenkian com o futuro e uma modernidade sempre em falta.
No entanto, há algumas perguntas que, pelo menos de uma perspetiva espanhola, permanecem sem resposta. Aborda-se a anomalia de que a Fundação de origem privada e estrangeira ocupe o papel de “Ministério da Cultura” e seja, como se afirma no texto, uma instituição fundamental na transformação cultural de um país como Portugal. No entanto, as razões da ausência de políticas culturais de natureza estatal equivalentes às aplicadas no resto da Europa e em Espanha não são abordadas com a profundidade equivalente às utilizadas em outras questões, apesar de Ana Bigotte Vieira não as ignorar. De certa forma, assume-se como algo dado à exceção portuguesa relativamente às dinâmicas de modernidade vigentes no contexto europeu, uma exceção apenas interrompida pela presença da Gulbenkian. Por outro lado, ficamos a conhecer parcamente a personagem central da narração: Madalena Perdigão. Ainda que o texto nos informe detalhadamente sobre os dados fulcrais da sua carreira profissional, Ana Bigotte não interroga a sua figura desde marcos de interpretação de género, de classe social e de ideologia que permitam explicar os porquês e os comos das suas decisões e da sua capacidade de ação. Dá a impressão de que a poderosa presença da Fundação, ao mesmo tempo objeto de estudo e possibilitadora do mesmo, gera ângulos mortos ou linhas de sombra que limitam consciente ou inconscientemente a análise.
Madrid, Março de 2023